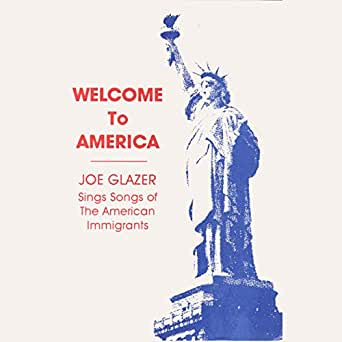Quando existe alguma contestação em relação àquilo que
escrevemos, estas coisas tornam-se mais engraçadas…
Vem isto a propósito de, na sequência de alguns textos
mais recentes onde abordei, de forma muito ligeira, alguns aspetos relacionados
com a escravidão nos Estados Unidos, um Amigo meu de longa data me ter enviado
um extenso texto recordando a escravidão de que foram vitimas os irlandeses,
sobretudo durante os séculos XVII e XVIII.
A encabeçar o dito texto, a única frase que terá saído da
pena do meu Amigo foi: “A escravidão não tem cor… O racismo é apenas
um álibi para abusar, degradar, explorar e roubar o nosso semelhante”.
E a mensagem termina com a informação de que, em pleno
séc. XXI, 400 dólares é o preço que custará um escravo na Líbia...
Como não gosto que coisas destas fiquem sem resposta,
enviei-lhe, de imediato, uma curta mensagem, lembrando-lhe que os meus textos
se referiam a factos concretos e inquestionáveis que ocorreram nos Estados
Unidos no Séc. XIX, e que não pretendiam ser (nem eu teria, sequer,
conhecimentos para tal…) uma História, por ligeira que fosse, da
Escravatura no Mundo, ou até no mais restrito Mundo anglo-saxónico.
E acrescentei que sabia muito bem que os irlandeses
tiveram muitos problemas de integração nos Estados Unidos, sofreram humilhações
e discriminações de diversa natureza e que foram sujeitos a trabalho quase
forçado em condições, muitas vezes, degradantes (dei-lhe o exemplo da
construção do Caminho de Ferro…), mas que nunca tinha ouvido falar da
existência de mercados de vendas de escravos irlandeses nos Estados Unidos, ou
de Leis que impusessem a segregação entre os irlandeses e a restante população
branca...
Se não conhecesse tão bem o meu Amigo, poderia ter
pensado que esta seria, no fundo, uma falsa controvérsia, porque ambos
estávamos a falar de situações completamente distintas, em termos de
épocas e de lugares.
Mas como o conheço de ginjeira há mais de 50 anos,
sei muito bem ao que ele vinha...
O que ele pretendia era juntar a sua voz àquelas que hoje
se indignam com uma alegada excessiva atenção que é dada ao fenómeno do
racismo negro e nos querem fazer recordar, a todos nós, que o racismo branco
também existe e existiu durante toda a História da Humanidade.
No limite, é óbvio que “all lives matter” e, assim
sendo, “white lives matter, too”, sendo elas irlandesas, ou não...
Mas, por ser tão óbvio e todo o Mundo o saber tão
bem, não é sequer necessário estarmos sempre a recordá-lo a todo o momento.
Em relação aos negros, infelizmente, já o Mundo parece
dar sinais de algum esquecimento…
Mas isto foi, apenas, um introito, uma “private joke”,
e vamos então ao que me trás aqui hoje, que acaba por estar, propositadamente,
relacionado.
Quando disse que podia fazer toda a História dos Estados
Unidos através de “folk songs”, não estava a brincar…
E para mostrar a este meu Amigo que a “Folk Song”
não se esqueceu dos seus queridos irlandeses, aqui vos trago, hoje, duas
canções, de entre muitas outras que poderia ter escolhido.
Curiosamente, ambas nasceram em Inglaterra em meados do
Séc. XIX, foram trazidas para os Estados Unidos e adaptadas às realidades
locais, integrando, rapidamente, o património musical do país.
NO IRISH NEED APPLY
Esta frase surgia, com muita frequência, nos locais
onde se faziam anúncios de ofertas de emprego (jornais, lojas, restaurantes,
entradas de estaleiros de obras, etc) e o que significava é que os irlandeses
nem sequer se deveriam dar ao trabalho de responder, porque a sua candidatura
jamais seria aceite.
Esta discriminação começou por ter lugar na própria
Inglaterra, para onde os pobres irlandeses fugiram aos milhares na sequência do
“potato blight” ou “peste da batata”, um fungo que lhes dizimou, durante
anos, a cultura da batata, que era o principal meio de subsistência da
população e de rendimento no mundo rural.
Estima-se que, por força deste fenómeno, entre meio e um
milhão de irlandeses terão morrido de fome e até existe uma outra “folk song”
muito conhecida que retrata este acontecimento e que se chama “Irish Famine
Song”. Mas não quero lançar aqui a confusão e deixarei isso para outra
oportunidade...
Quem tinha possibilidade emigrava para os Estados Unidos,
mas quem não a tinha fugia para Inglaterra, a cujas grandes cidades afluíam
estes pobres irlandeses com um ar triste, faminto e desmazelado, aí sofrendo humilhações
e discriminações de toda a espécie, nomeadamente na busca de habitação e na
procura de emprego.
Entre 1845, ano do início da “potato blight”, e
1854, terão entrado nos Estados Unidos mais de 2 milhões de emigrantes
irlandeses, e se o período for mais alargado, entre 1820 e 1930 terão sido mais
de 4,5 milhões. Ou seja, o curto período do fungo da batata foi responsável por
quase metade da volume total da emigração irlandesa na,
América...
E, durante esse mesmo período, a população irlandesa terá
regredido entre 20 a 25%.
Embora haja quem queira branquear a História e afirmar
que a discriminação dos irlandeses na América não foi tão acentuada como a
pintam, a realidade parece desmenti-lo.
Às irlandesas e aos irlandeses estavam reservados os
piores e os mais perigosos trabalhos.
Elas especializaram-se em trabalhos de mulheres-a-dias,
empregadas de limpeza e outras atividades menos qualificadas.
Eles, que também viam ser-lhes vedado o acesso às
profissões mais qualificadas e de melhores níveis de remuneração, trabalharam
duro na abertura de canais, na construção do caminho de ferro e na construção
civil, com salários de miséria.
Já em pleno séc. XX, naquela celebérrima fotografia de
Charles C Ebbets tirada em 1932, que nos mostra onze trabalhadores sentados
numa barra de ferro a tomar o seu almoço a uma altura de 69 andares, a
maioria deles são irlandeses...
A canção, que alude a esta discriminação, parece ter sido
escrita em Inglaterra em 1862, mas as fontes divergem quanto ao seu
autor.
Pete Seeger diz que foi John F. Poole, mas outras fontes
afirmam que foi uma jovem rapariga irlandesa, Kathleen O’ Neil de seu nome.
Deixo-vos duas interpretações.
A mais antiga, de Joe Glazier, segue de perto a
adaptação feita por Pete Seeger, que conta ter ido buscar o refrão a uma outra
canção irlandesa da mesma época e com o mesmo sentido, “No Irish Wanted Here”.
A mais recente é de Charles Szabo, e escolhia-a pela
sobriedade da interpretação e por conter a letra, que é muito semelhante à
anterior.
E passemos à segunda canção…
PADDY WORKS ON THE RAILWAY
Esta canção, cuja autoria parece ser difícil de atribuir
com exatidão, surgiu em Inglaterra em meados do Séc. XIX e terá começado por
ser uma “sea shanty”, isto é, uma canção marítima.
Ainda em Inglaterra, a canção foi adaptada ao contexto da
construção do Caminho de Ferro local e foi sob essa forma que chegaria, mais
tarde, aos Estados Unidos, embora com profundas alterações na sua letra.
O primeiro exemplo de um Caminho de Ferro surge nos
Estados Unidos em 1827, através da Baltimore & Ohio Railroad, embora ainda
com tração animal.
Dois anos depois, na Delaware & Hudson Railroad, circulava
já a primeira locomotiva a vapor, importada da Inglaterra.
A primeira locomotiva concebida nos Estados Unidos, a Tom
Thum, seria lançada em 1830, mas começou por perder uma corrida disputada com
um cavalo (quantas vezes vimos isto no Cinema…?)! Mas essa resistência não iria
durar muito e o Caminho de Ferro haveria, naturalmente, de se impor como um
meio de transporte mais barato, mais rápido e mais seguro, não obstante as suas
viagens serem interrompidas, de vez em quando, por uns cavaleiros mascarados,
tipo Jesse James e tantos outros. Mas as diligências também o eram, e ainda
mais…
Lincoln apercebeu-se da importância estratégica do
Caminho de Ferro para o povoamento e desenvolvimento dos Estados Unidos e
determinou, em 1862, a ligação ferroviária de costa a costa, que se haveria de
concretizar no dia 10 de Maio de 1869, em Promontory, no estado de Utah, quando
as linhas da Central Pacific Railroad e da Union Pacific Railroad se juntaram,
criando a primeira grande linha ferroviária transcontinental.
A mão-de-obra para a construção de todas estas grandes
realizações foi constituída, maioritariamente, por emigrantes irlandeses e
chineses, que trabalhavam até à exaustão em condições infra-humanas de
risco, sofrimento, alojamento e remuneração.
O Caminho de Ferro tornar-se-ia, de imediato, um terreno
fértil para a música tradicional americana.
Desde as dificuldades da construção das próprias linhas,
com a necessidade de abertura de túneis e edificação de viadutos, aos
“heróis do povo”, como John Henry, que lá trabalhavam e aos bandidos que
rondavam as imediações, como Sam Bass, passando pela evocação dos grandes
desastres ferroviários e pela glorificação das principais locomotivas,
tudo serviu para ser transformado em canção.
“Paddy Works on the Railway” é um bom exemplo da história
de um operário anónimo que trabalhou no Caminho de Ferro até cair para o lado,
embora haja, igualmente, versões desta canção adaptadas à construção do Erie
Canal.
Também vos deixo duas interpretações:
Uma, mais antiga, pelos “Weavers”, que segue a adaptação
feita por Pete Seeger.
Para interpretação mais recente, não resisti à
exuberância dos “Pogues”, que parece seguir mais à risca a versão original
irlandesa.
Notarão que, ao contrário do que sucedeu na canção
anterior, aqui as letras são substancialmente distintas, mas que a crítica
social e o lamento pela penosidade do trabalho se mantêm, embora esta
última versão faça mais apelo ao orgulho de ser irlandês.
E com todo este esforço em prol dos bons irlandeses terei
sido, certamente, perdoado pelo meu Querido Amigo por ter tido a ousadia de
falar dos negros…!
Texto de Luís Miguel Mira